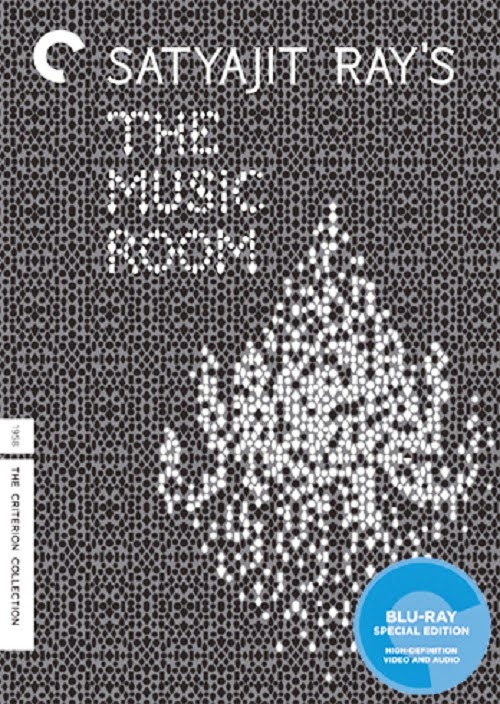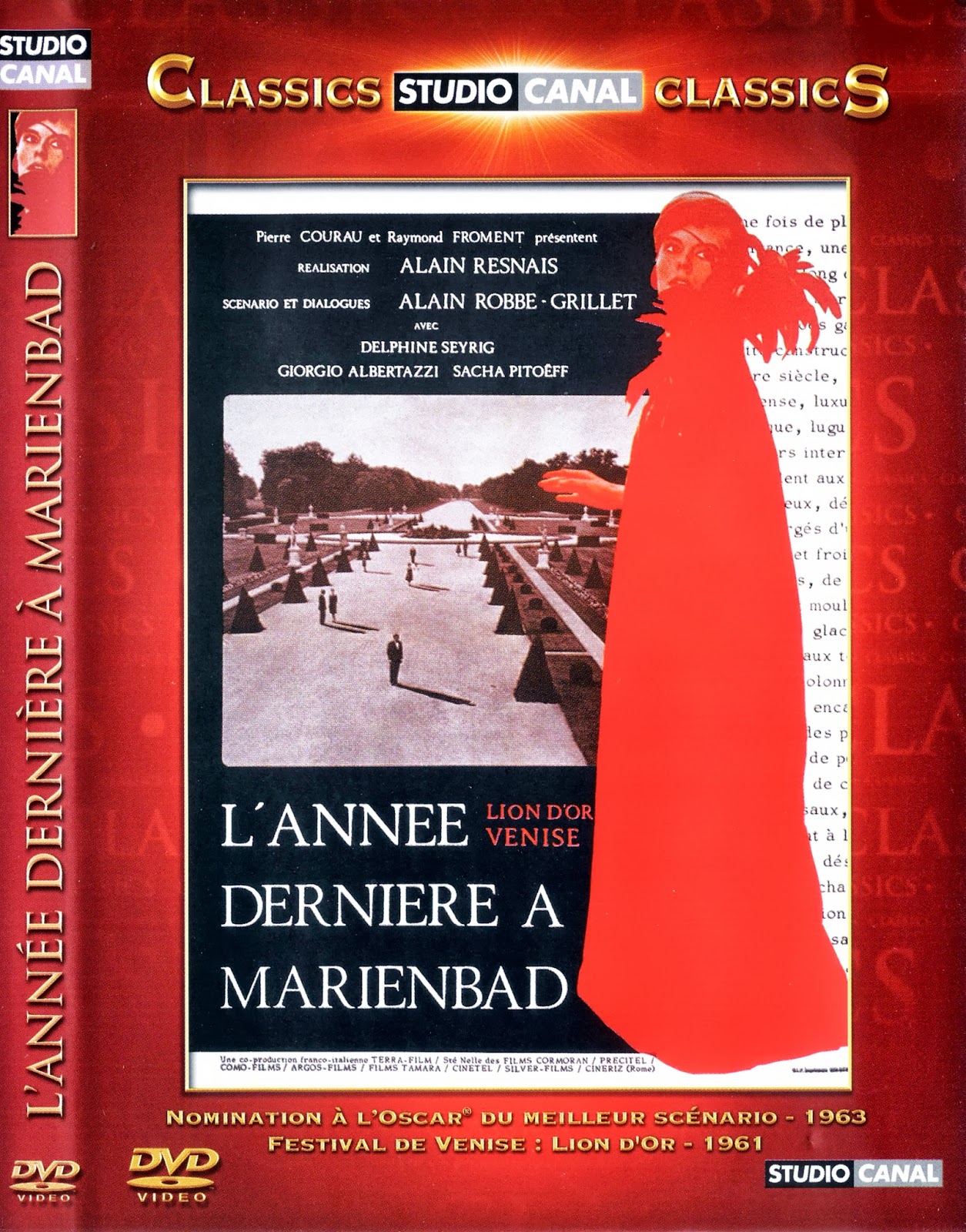Duas formas de fazer cinema.
"O espelho", de Andrei Tarkovsky
"Zerkalo" (URSS, 1975)
"The mirror" (Inglês); O Espelho (Portugal e Brasil).
De Andrei Tarkovsky, com Margarita Terekhova, Oleg Yankovskiy, Filipp Yankovskiy, Ignat Daniltsev e Nikolay Grinko.
Biografia. Drama. Russo. 108 minutos. Cor.
Sinopse
Às portas da morte, um homem quarentão evoca as memórias do seu passado. A sua infância, a sua mãe, a guerra. Embora as lembranças sejam muito pessoais, é também a memória da nação Russa que vem à tona...
"Os dias da Rádio", de Woody Allen
"Os dias da Rádio" (Portugal). "A era do Rádio" (Brasil).
De Woody Allen, com Mike Starr, Paul Herman, Don Pardo, Dianne Wiest, Mia Farrow e Julie Kavner.
Comédia. Inglês. 88 minutos. Cor.
Sinopse
Evocação nostálgica da era dourada da rádio, em 1942 em Rockaway, New York, através de uma série de histórias de personalidades deste meio de comunicação, interligadas com aspetos da vida de uma família de trabalhadores da cidade.
Não creio que haja
uma diferença muito grande entre os dois no respeito ao Cinema e aos seus
mestres.
São igualmente
pessoas com alguma obsessão sobre os porquês do Homem e seus limites. Um
profundamente religioso, o outro tocado pela angústia dos que não têm fé.
Em Woody Allen (WA), as recordações
ancoram-se na realidade mais ou menos histórica. Realidade objectiva e comum a
um grupo, em determinada época. Por acaso a mesma de Andrei Tarkovsky (AT).
Em AT é uma memória
individual, filtrada e exposta tal e qual. Onírica, como são muitas vezes os
factos que recordamos, sobretudo quando acarretam lembranças mais ou menos
traumáticas, como divórcios paternos, guerra e conflitos próximos. Só na
medida em que é humana é também comum a uma comunidade com um contexto muito
diferente do de WA.
A utilização da cor
em WA, remete-no para a ilustração (brilhante) de um “glamour” e sublinha a
harmonia de um tempo que se recorda quase sempre feliz.
Em AT, serve para
tentar descrever estados de espírito que vivem apenas no autor.
O ritmo e o
encadeamento das sequências em WA, tentam tornar credível o relato e os atores
procuram ser quase figuras "históricas". Transportam-nos para um
mundo real, já vivido e credível.
AT não procura
contar uma história ou relacionar de forma consistente os factos. Eles existem
enquanto são contados. Eles existem para o narrador que os recorda. Não para o
espectador.
WA tenta falar com o
espectador, fazê-lo viver consigo uma lembrança.
AT fala consigo
próprio e apenas tenta colocar em ordem a sua vida passada.
A única questão
importante deste meu arrazoado confuso, tentarei explicitar assim: Porquê
estas obras que são tão diferentes como tentei provar, são igualmente dignas da
admiração dos amantes de cinema? Eu acho que a chave será a aproximação a
qualquer destes filmes com a mesma expectativa e curiosidade com que nos
aproximamos de uma outra forma de arte ou assim considerada. Poderemos então
perceber que as suas diferenças de forma e conteúdo não são defeitos de um ou
de outro. Não devemos recusar um filme como “Os Dias da Rádio” em
nome da arte e nunca um filme como “O Espelho” em nome do
entretenimento.
Os filmes que
aborrecem algumas pessoas não são os mesmos que aborrecem outras.